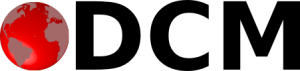Imagine a seguinte questão: quem renovou a literatura russa no século 19?
Pushkin, Dostoievski, Tolstoi. Turgueniev são quatro boas respostas.
Agora, pense se alguém dissesse que foram as editoras de livros russas. Faz sentido?
É mais ou menos o que ocorre no Brasil quando se discute quem modernizou o jornalismo no país. Os próprios jornalistas respondem, quase sempre, que foram empresas, e não profissionais. É um ato de servilismo, de rebaixamento intelectual, em que a autoestima jornalística é arremessada para o subsolo.
Empresas não escrevem reportagens e artigos, não fazem capas, não fotografam. Elas, quando boas, dão o suporte necessário para jornalistas talentosos. Atraem os melhores. Mas quem faz chover, ou não, são os profissionais. O jornalista José Paulo Kupfer tinha uma expressão feliz. O que fazia a diferença, segundo ele, era o “sangue anônimo do editor”. Nem sempre é um sangue anônimo nestes dias de superexposição. Mas são sempre os profissionais que realizam as mudanças capitais.
Existem, na história do jornalismo mundial, exceções raras que apenas confirmam a regra. Henry Luce e Britton Haden, colegas de Yale que fizeram a Time na década de 1920, da qual brotaria uma das maiores empresas de comunicação do mundo, inventaram um gênero de jornalismo. Eram donos da Time e ao mesmo tempo seus maiores jornalistas. Haden morreu cedo, mas Luce seguiu adiante, fez revistas como a Fortune e foi um dos grandes rostos do Século Americano. Nele se mesclou o gênio empreendedor com o gênio jornalístico.
É quase lugar comum dizer que foi Octavio Frias de Oliveira, por exemplo, que modernizou os jornais brasileiros. É uma falácia. Frias apenas foi um empresário bem sucedido de jornalismo. Não escrevia, não formulava visões filosóficas. Não era Henry Luce. É irritante ver jornalistas experientes como Clóvia Rossi promover, não sei se com sinceridade, o culto da personalidade de Frias. As transformações da Folha a partir da compra do jornal por Frias, no início da década de 1960, se deveram a jornalistas de alto nível, como José Reis e, modéstia à parte, papai. Eles já tinham tornado o jornal, sob Nabantino, uma escola disciplinada de jornalismo. O primeiro manual da Folha, no final dos anos 1950, foi supervisionado por meu pai. Gente brilhante se juntaria à equipe da Folha mais tarde: Claudio Abramo, Alberto Dines, Paulo Francis, Tarso de Castro. As mudanças que permitiram à Folha romper uma liderança secular do Estadão em meados dos anos 1980 – quando o líder parecia petrificado em sua mesmice e obsolescência editorial – foram o fruto de um grupo de jornalistas de alta potência.
Frias tinha a chave do cofre. Não é pouca coisa, mas é muito menos do que se propala. Gente com dinheiro, como Frias, é relativamente fácil de achar. Reais gênios jornalísticos, não.
Por que os próprios jornalistas, quando escrevem sobre a história da imprensa brasileira, são tão generosos com as empresas e tão mesquinhos com os profissionais como eles próprios? Pode ser um complexo atávico de inferioridade. Ou apenas a reprodução de coisas que estão nos departamentos de pesquisas. Mas a razão mais provável é que façam assim para agradar seus patrões e com isso eventualmente galgar posições na carreira.
Está ainda por ser escrita a real história do jornalismo brasileiro. Antes, é preciso rediscutir o papel de empresas e de profissionais. Se “Minha Tribo” contribuir para isso, de alguma forma, me sentirei feliz, em nome de tantos jornalistas injustiçados, relegados a rodapés quando deviam estar na primeira página.