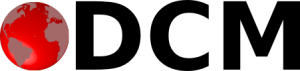Na última semana, durante a reunião do G7, o chanceler alemão Friedrich Merz proferiu uma frase que deveria ter provocado vergonha nas chancelarias europeias: “Israel está fazendo o trabalho sujo por nós ao bombardear o Irã.” Não foi um deslize retórico, tampouco um erro de cálculo político. Foi uma confissão crua que rasgou o verniz de civilização que a Europa ainda insiste em ostentar. Nenhum governo europeu emitiu sequer uma nota de repúdio, um mínimo “não em meu nome”. Nenhum gesto de recuo, nenhuma palavra de desagravo. Nada. O silêncio obsequioso que se seguiu equivale a um endosso coletivo. Merz vocalizou, com imprudente sinceridade, o sentimento de um continente que, há séculos, autoriza a destruição alheia em nome de interesses próprios, sempre embalados em discursos de segurança, estabilidade ou, ironicamente, civilização.
O Oriente Médio, aos olhos de uma Europa incapaz de aprender com a própria história, permanece como terreno de manipulação geopolítica. As vidas árabes e persas continuam, como tantas outras ao longo dos séculos — africanas, sul-americanas, asiáticas —, disponíveis para o sacrifício. Israel, que, na engrenagem contemporânea, cumpre o papel de executor implacável, sob a liderança nazissionista do criminoso genocida Benjamin Netanyahu, tornou-se o braço armado de uma estratégia que combina expansionismo territorial, apartheid institucional e uma concepção de segurança fundada na eliminação física da resistência. Netanyahu governa com a segurança de quem conta com o beneplácito de Washington e o silêncio cúmplice da Europa. Suas ações militares, por mais devastadoras e flagrantemente ilegais à luz do direito internacional, recebem ora o aplauso velado, ora a desculpa diplomática conveniente.
O recente bombardeio das instalações nucleares iranianas não é um episódio isolado; é o desdobramento lógico de uma política sustentada por anos de permissividade internacional e de uma retórica de superioridade moral há muito desprovida de freios éticos. Não há aqui o inesperado. Há, sim, a continuidade de uma prática que se alimenta da impunidade crônica e da conivência de potências que desviam o olhar sempre que o sangue derramado não é o seu. Se a morte vier por fome, como ocorre aos milhares entre as crianças palestinas em Gaza, tanto melhor: não há sangue escorrendo para provocar engulhos.
No centro desse enredo de necropolítica global, o repugnante fascista Donald Trump encena o papel de incendiário. Em pronunciamento oficial, após o bombardeio criminoso ao Irã, vangloriou-se de ter destruído o programa nuclear iraniano. Felizmente, era apenas mais uma mentira, mais uma fake news destinada a alimentar seu exército de zumbis ideológicos. Poucas horas depois, a realidade recolocou os fatos em seu devido lugar: o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Dan Caine, admitiu que, embora os danos fossem significativos, estavam longe de comprometer o núcleo do programa iraniano. Em seguida, a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou o que já se suspeitava: não houve vazamento de radiação, não há colapso nuclear iminente, tampouco se pode falar em destruição definitiva.
Esse ataque não pode ser lido como mera provocação militar. É um ato que flerta perigosamente com o ecocídio. Se as bombas tivessem atingido o núcleo das instalações, o mundo enfrentaria uma crise ambiental de proporções catastróficas. A ideia de lançar mísseis sobre complexos nucleares, em plena região de instabilidade, revela uma disposição criminosa de espalhar radioatividade, destruindo a vida ao redor — e além.
O pronunciamento farsesco de Trump não é apenas mais um episódio de manipulação. Sua função é clara: fabricar deliberadamente um inimigo externo, em cálculo político perverso, repetindo a velha fórmula da cortina de fumaça para esconder a falência política, econômica, social e moral de seu próprio país. A guerra, ainda que não oficialmente declarada, transforma-se em extensão de sua eterna campanha eleitoral — traço clássico de todo fascista: jamais desce do palanque, vive o eterno retorno da disputa. O Irã, mais uma vez, vira palco de um teatro escrito segundo interesses imediatos e uma fidelidade cega a Netanyahu e aos setores mais belicosos da política americana.
O genocida Netanyahu, por sua vez, segue como arquiteto da barbárie, responsável direto pela institucionalização de práticas de extermínio, fome e deslocamento forçado. Em Gaza, os relatos de fome extrema, a destruição sistemática de hospitais, escolas e centros de ajuda humanitária compõem um retrato sombrio de um governo que perdeu qualquer resquício de compromisso com os direitos humanos mais elementares. Agora, ao mirar o Irã, Netanyahu amplia o círculo da violência, arrastando o mundo para uma espiral de instabilidade cujas consequências permanecem imprevisíveis.

Assistimos a um colapso anunciado da ordem internacional baseada em regras. A ONU permanece paralisada, engessada por vetos e por uma arquitetura de poder que já não responde aos desafios do presente. As potências europeias, entre elas a própria Alemanha de Friedrich Merz, oscilam entre a cumplicidade e a covardia. Os Estados Unidos, por sua vez, agem como piratas de Estado, lançando bombas com a mesma leviandade com que seu presidente recita comunicados oficiais. Israel, movido por um senso de imunidade histórica, avança com a convicção de que nenhuma sanção, nenhuma condenação, nenhum limite se aplicará aos seus atos.
Quem são os responsáveis por essa escalada suicida? Merz e a elite europeia que ele representa. Trump e seu fascismo incendiário. Netanyahu e seu governo nazissionista de ocupação, violência e apartheid. São eles os rostos visíveis de um projeto que ameaça, mais uma vez, empurrar o mundo para uma conflagração de escala global.
O relógio da insanidade avança com precisão que não permite ilusões. O mundo já viu, mais de uma vez, aonde esse caminho conduz. O que se espera, agora, é que a lucidez, mesmo que tardia, encontre força suficiente para deter essa marcha cega rumo ao abismo.