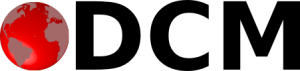Por Olímpio Cruz Neto, no blog do autor
Autonomia do Banco Central é uma dessas ideias que chegam com perfume de modernidade: “blindagem institucional”, “governança”, “credibilidade”. Parece coisa de gente grande. A narrativa é sempre a mesma: a política é emocional, o eleitor é impulsivo, o governo é tentado a gastar. Portanto, a moeda deve ser entregue a técnicos imunes ao ciclo eleitoral. É como se juros fossem um instrumento neutro, e não a alavanca mais violenta da economia.
Funciona assim: você pega uma decisão que define emprego, crédito, crescimento, dívida pública e renda e a encaixota numa palavra bonita: técnica. Depois, coloca a caixa numa prateleira alta, onde a mão do voto não alcança. Chamam isso de autonomia. Eu chamo de tutela elegante.
Porque vamos combinar: juros são política.
Quando o Banco Central decide “apertar” para “ancorar expectativas”, não está apenas domando preços. Está escolhendo um lado da corda. Juros altos encarecem crédito, desestimulam investimento, travam consumo, empurram empresas para a asfixia financeira, ampliam o custo da dívida. E, como bônus, remuneram regiamente quem vive de juros e títulos. Isso não é “consequência colateral”: é o próprio mecanismo.
Aí vem o truque retórico: dizem que a autonomia protege o país do “populismo”.
Ótimo.
Mas quem protege o país do rentismo, que é um populismo de terno e gravata, com planilha, jargão e lobby? Quem protege o país de um regime em que o investimento produtivo vira exceção e a renda financeira vira norma? Curiosamente, ninguém parece preocupado com esse tipo de “irresponsabilidade”.
A autonomia do Banco Central é apresentada como se fosse uma garantia de neutralidade. Só que neutralidade é um luxo que não existe quando se decide o preço do dinheiro. O que existe é prioridade.
No desenho atual, a prioridade vira uma crença: inflação acima de tudo; o resto — emprego, renda, indústria, investimento — entra como comentário lateral. O país real, aquele que vive de salário, de giro, de parcela, de boleto, vira o figurante de um filme cujo protagonista é a tal “credibilidade”.
E a tal “credibilidade”, nesse roteiro, significa uma coisa bem específica: ser confiável para credores. É um conceito de confiança com CEP. Não é a confiança do pequeno empresário que precisa de crédito para não fechar. Não é a confiança do trabalhador que precisa que a economia gire. É a confiança de quem compra papel, precifica risco, exige prêmio e chama de prudência o que, na ponta, vira desemprego.
O resultado é um sistema admirável: o governo eleito pode prometer crescimento, investimento, reindustrialização, expansão de infraestrutura. Pode até tentar. Mas existe um poder paralelo — não eleito, “técnico”, blindado — capaz de impor um freio geral na economia por tempo indeterminado. A política fiscal fica refém do custo da dívida. A política social vira refém do “espaço no orçamento”. A política de desenvolvimento vira refém do “custo do capital”. E, quando tudo começa a falhar, a culpa recai… no governo eleito. O eleitor é chamado de infantil; o mercado, de adulto.
É a democracia com rodinhas: você pode escolher o motorista, mas o volante está preso por uma corrente chamada “expectativas”.
Claro que sempre aparece a defesa padrão: “autonomia reduz inflação”. Pode reduzir. Mas essa não é a pergunta que importa. A pergunta é: a que preço — e pago por quem?
Se o remédio é sempre o mesmo, e quem toma sempre é o mesmo corpo social, o nome disso não é estabilidade: é regime. Um regime em que a economia funciona como aparelho de transferência: do trabalho para a renda financeira, do investimento para o título, do futuro para o curto prazo.
Não se trata de defender um Banco Central obediente ao governo do dia. Não é isso. Trata-se de admitir o óbvio: se o Banco Central tem poder para moldar a vida material de milhões, ele precisa ter responsabilidade pública real, e não apenas coletivas, atas e frases calibradas. Precisa ser cobrado por impacto em emprego, crédito e investimento com a mesma seriedade com que se cobra desvio de inflação. Precisa operar num arranjo em que “técnico” não signifique “inquestionável” — e em que “autonomia” não seja sinônimo de imunidade democrática.
Porque, no fim, autonomia do Banco Central não é um debate sobre técnica. É um debate sobre quem manda quando a sociedade entra em conflito. E, do jeito que a história tem sido escrita, a resposta é simples: manda quem chama seu próprio interesse de “mercado” — e chama o interesse alheio de “populismo”.
Se isso é modernidade, é uma modernidade com um problema sério: ela sempre termina com a mesma frase, dita com ar de inevitabilidade — “não há alternativa”. E não há alternativa, mesmo, quando a alternativa foi proibida por desenho.