
Por Reynaldo Aragon, no site Código Aberto
O que parecia apenas mais um embate político nos EUA agora se transforma em um teste histórico: tropas federais deslocadas para as ruas de Washington, disputas abertas com governadores democratas e ataques à independência do Federal Reserve revelam um país em ebulição. Estaria a democracia americana entrando em colapso? Neste artigo inédito, apresentamos uma análise estratégica e preditiva do cenário, antecipando os possíveis desdobramentos da crise mais grave dos Estados Unidos no século XXI.
Por que os EUA estão à beira do caos
Na manhã de 26 de agosto de 2025, as imagens que circulam das ruas de Washington e de outras capitais norte-americanas parecem retiradas de um manual de guerra híbrida em território doméstico. Tropas da Guarda Nacional patrulham bairros centrais, enquanto ordens executivas da Casa Branca disputam espaço com contestações judiciais e declarações inflamadas de governadores e prefeitos democratas. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump insiste em um discurso de “lei e ordem” que, mais do que restaurar a paz, amplia a tensão entre instituições federais e locais. A disputa pelo controle da segurança interna já não é apenas uma batalha política: tornou-se um teste de estresse para a democracia mais antiga do Ocidente.
Este artigo parte de uma pergunta provocadora — e que há décadas alimenta a imaginação de analistas, acadêmicos e jornalistas: poderiam os Estados Unidos caminhar para uma guerra civil ou mesmo para uma ditadura sob a figura de Trump? O ethos aqui não é o da especulação fácil, mas o da análise estratégica com capacidade preditiva. Ao mobilizar o que chamamos de jornalismo estratégico, buscamos ultrapassar a mera descrição factual dos acontecimentos e construir um diagnóstico denso, que ajude tanto o público quanto os tomadores de decisão a compreender as variáveis em jogo e os cenários possíveis.
O jornalismo estratégico, em seu estado da arte, não se limita a informar. Ele age como um sistema de alerta precoce — um radar que conecta elementos históricos, sociais, econômicos e políticos para mapear não só o presente, mas também os sinais de futuro. Nesse sentido, os confrontos institucionais nos EUA, a militarização da política doméstica e o risco de erosão da independência econômica (com a pressão direta sobre o Federal Reserve) não podem ser analisados isoladamente. São peças de uma engrenagem maior: a tentativa de consolidar um poder autoritário em um país fundado sobre freios e contrapesos.
Mais do que perguntar se Trump já é um ditador, é preciso compreender se a combinação de suas decisões, suas bases sociais radicalizadas e a fragilidade das instituições americanas abre espaço para a consolidação de um regime híbrido — formalmente democrático, mas autoritário, na prática. Ao mesmo tempo, é necessário avaliar se a escalada atual se traduzirá em um conflito difuso, de baixa intensidade, que fragmenta a unidade federativa, alimenta movimentos separatistas e redesenha os contornos da política interna dos EUA.
Este é o ponto de partida: apresentar, com rigor e método, os riscos reais, os cenários plausíveis e as consequências de um país que pode estar à beira de seu maior colapso institucional desde a Guerra Civil do século XIX.
Contexto histórico e institucional — quando o passado ecoa no presente

Os Estados Unidos nasceram sob a tensão permanente entre autoridade federal e autonomia estadual. A Constituição de 1787 consagrou esse equilíbrio frágil em um pacto que, ao longo de mais de dois séculos, foi testado em momentos de ruptura: da Guerra de Secessão (1861-1865) à luta pelos direitos civis nos anos 1950-1960, passando pela turbulência de 1968 e pela “guerra contra o terror” após os atentados de 11 de setembro. Cada crise expôs a mesma contradição: até onde vai o poder do presidente quando confrontado pela resistência de estados e cidades?
Em 1957, Dwight Eisenhower enviou tropas da 101ª Divisão Aerotransportada para garantir a matrícula de estudantes negros em Little Rock, Arkansas, desafiando a autoridade estadual segregacionista. Em 1968, diante dos protestos contra a Guerra do Vietnã, a presença militar em cidades norte-americanas trouxe à tona o debate sobre repressão e direitos civis. Em 2020, Donald Trump, já então presidente, ameaçou invocar o Insurrection Act para conter manifestações do movimento Black Lives Matter, mas recuou diante da pressão de governadores e chefes militares. Esses episódios mostram que o uso de forças federais em território interno não é novo — mas sempre esteve circunscrito a situações extraordinárias e cercado de contestação legal.
Duas peças legais são hoje fundamentais para compreender os dilemas de 2025. A primeira é o Insurrection Act (1807), que autoriza o presidente a empregar forças armadas em solo nacional em casos de insurreição, obstrução da lei ou ameaça à integridade dos EUA. Trata-se de um dispositivo raro, acionado em situações extremas, cuja invocação direta até agora Trump evitou — mas cujo fantasma ronda cada uma de suas declarações. A segunda é o Home Rule Act (1973), que concede ao Distrito de Columbia autonomia administrativa limitada, mas preserva ao presidente prerrogativas sobre a segurança da capital. É justamente essa brecha que tem permitido a Trump deslocar tropas para Washington sem passar por governadores, abrindo precedente perigoso para futuras expansões.
A lógica do federalismo norte-americano atua, portanto, como barreira e campo de batalha ao mesmo tempo. De um lado, governadores democratas como Gavin Newsom (Califórnia) e J.B. Pritzker (Illinois) mobilizam tribunais estaduais e cortes federais para contestar as medidas da Casa Branca. De outro, prefeitos de cidades-alvo — de Chicago a Los Angeles — transformam sua resistência em palanques políticos, desafiando a narrativa presidencial. Essa disputa jurídica e simbólica ecoa as lutas históricas entre estados e União, mas carrega uma novidade: a combinação de polarização partidária extrema, desinformação em massa e um presidente que flerta abertamente com a lógica de “homem forte” capaz de se sobrepor às instituições.
Se no passado presidentes utilizaram tropas para garantir direitos constitucionais ou responder a crises nacionais específicas, em 2025 o movimento parece inverter a lógica: trata-se de usar a força federal para desafiar governos locais e consolidar poder político pessoal. É aqui que o fantasma da ditadura ganha corpo, não como ruptura súbita do sistema, mas como erosão gradual dos freios e contrapesos que sustentam a república norte-americana desde sua fundação.
O presente em ebulição — agosto de 2025

O verão político de 2025 nos Estados Unidos entrou para a história como um marco de instabilidade. O presidente Donald Trump, em seu segundo mandato, decidiu elevar a tensão ao deslocar unidades da Guarda Nacional e forças federais para o coração da política americana. Washington, D.C., epicentro institucional, tornou-se vitrine de uma nova estratégia de poder: decretos presidenciais sob a justificativa de “emergência criminal” permitiram que o Executivo assumisse temporariamente o comando da Polícia Metropolitana, algo contestado por juristas e legisladores locais. O gesto foi mais do que simbólico: mostrou que Trump está disposto a transformar a capital em laboratório de controle autoritário.
A ofensiva não parou em Washington. O presidente acenou com a possibilidade de enviar tropas também para Chicago, um dos maiores redutos democratas do país, sob o argumento de combater “gangues e terrorismo urbano”. A reação foi imediata: o governador de Illinois, J.B. Pritzker, classificou a medida como “intervenção inconstitucional” e anunciou que acionará os tribunais federais. Situação semelhante se desenha na Califórnia, onde o governador Gavin Newsom denunciou os movimentos da Casa Branca como “ensaio de golpe branco”. Prefeitos de grandes cidades ecoaram o discurso: Lori Lightfoot, em Chicago, e Karen Bass, em Los Angeles, acusaram Trump de governar pela força, não pelo diálogo. Outro front de conflito emergiu na economia. A tentativa de Trump de demitir a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, incendiou os mercados e gerou alarme entre economistas. A independência do Fed, pilar da estabilidade global, sempre foi considerada intocável. Atacar essa instituição é sinal claro de que o presidente pretende dobrar a máquina econômica aos seus interesses políticos. As primeiras reações não demoraram: queda nos mercados de títulos do Tesouro, volatilidade cambial e declarações de alerta de Wall Street. Para analistas, esse foi o gesto mais arriscado de Trump desde a posse — porque atinge diretamente a confiança internacional no dólar.
Enquanto isso, as ruas começam a refletir a divisão. Em Washington, grupos ligados ao movimento MAGA organizaram vigílias em apoio às tropas, enquanto manifestantes contrários denunciaram a escalada autoritária. Em redes sociais, influenciadores conservadores descrevem Trump como “o único capaz de restaurar a ordem”, enquanto veículos progressistas falam em “ensaio de ditadura”. O Departamento de Segurança Interna (DHS) elevou o alerta de risco de violência política doméstica, prevendo novos incidentes em protestos nos próximos meses.
Trump, por sua vez, mantém o tom desafiador. Em entrevista recente, negou ser um “ditador” e ironizou: “Sou apenas o único presidente que tem coragem de enfrentar os criminosos que os democratas protegem”. A frase, repercutida por toda a imprensa, sintetiza o momento: para seus apoiadores, um líder firme contra o caos; para seus críticos, um governante que testa, dia após dia, os limites do sistema democrático.
No curto prazo, o país parece avançar em direção a um impasse constitucional. Tribunais de apelação no Distrito de Columbia e na Califórnia já receberam ações para barrar as medidas federais. Congressistas democratas pressionam por uma resposta legislativa, mas a polarização no Capitólio paralisa qualquer consenso. O que se vê é um jogo de forças em tempo real: Trump aposta na ocupação militarizada e na retórica de guerra; seus adversários tentam ativar os mecanismos legais e a opinião pública para freá-lo.
A ebulição de agosto de 2025, portanto, não é apenas conjuntural. É a tradução concreta de uma disputa de poder que ultrapassa a política tradicional e entra no terreno da legitimidade institucional. Se o presidente pode usar tropas para desafiar estados e ainda ameaçar a independência do Fed, a pergunta que se impõe não é apenas “até onde ele vai”, mas até onde as instituições estão dispostas — e preparadas — para resistir.
A ideia de que Donald Trump poderia se tornar um ditador nos Estados Unidos não é nova, mas em agosto de 2025 ela deixou de ser mera retórica de campanha e passou a ser uma hipótese testada na prática, diante das decisões que ampliam a presença militar em cidades, contestam a independência do Federal Reserve e tensionam os freios constitucionais. É preciso, antes de tudo, compreender o que significa falar em “ditadura” no caso norte-americano. Diferentemente de regimes clássicos em que o Executivo concentra os poderes coercitivos, dissolve parlamentos e impõe censura aberta, o risco mais plausível nos EUA é o de um regime híbrido, no qual eleições e instituições continuam formalmente existindo, mas são inclinadas em favor do governante por meio de captura institucional, intimidação de opositores e uso estratégico da máquina estatal.
A hipótese “Trump ditador”: limites e possibilidades
As barreiras constitucionais ainda funcionam como travas relevantes. O federalismo norte-americano confere aos estados amplo controle sobre suas polícias e instituições locais, limitando a capacidade de intervenção direta do presidente. O Judiciário federal, com jurisdição nacional, e o Congresso, responsável pelo orçamento, completam esse sistema de freios e contrapesos que, até hoje, impediu aventuras autoritárias de se consolidarem. Além disso, a burocracia profissional, formada por servidores estáveis e especialistas, resiste a mudanças bruscas e não pode ser substituída de imediato por quadros leais ao presidente. Tudo isso significa que a clássica imagem de um decreto dissolvendo o sistema, típica das ditaduras latino-americanas ou europeias do século XX, não encontra equivalência nos EUA. O caminho viável para Trump seria mais lento, tático e dependente de crises que forneçam justificativa para centralização.

Os poderes de emergência são, nesse sentido, os instrumentos mais perigosos. O Insurrection Act, de 1807, autoriza o emprego das Forças Armadas em território doméstico diante de insurreições ou ameaças à integridade do país. Sua invocação exige narrativa convincente de colapso e está sujeita a revisão judicial e contestação política. A Posse Comitatus Act restringe o uso das Forças Armadas em operações civis, embora a federalização da Guarda Nacional ofereça ao presidente uma margem de manobra significativa, especialmente no Distrito de Columbia, onde o Home Rule Act garante prerrogativas ampliadas. O que se desenha, portanto, não é um cenário de militarização generalizada, mas de operações episódicas e concentradas, usadas tanto para pressionar adversários como para alimentar uma narrativa de força.
A estratégia mais concreta de erosão democrática está no campo da captura institucional. Trump e seus aliados vêm buscando alterar a estrutura do Departamento de Justiça e das agências de segurança, orientando investigações seletivas contra opositores e blindando aliados por meio de lawfare e indultos estratégicos. A tentativa de demitir a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, sinaliza o desejo de dobrar agências independentes à lógica do ciclo político, minando a confiança internacional no dólar. Ao mesmo tempo, iniciativas como a reclassificação de cargos públicos — conhecidas como “Schedule F” — buscam abrir caminho para demissões em massa e nomeações por lealdade, enfraquecendo a burocracia profissional. Essa estratégia, se tolerada pelos tribunais, pode inclinar de forma sistemática as condições da competição política.
Fora do núcleo institucional, a base de sustentação de Trump se apoia em dois pilares: a guerra informacional e a mobilização de grupos armados. Nas redes sociais e em sua rede midiática, o presidente cultiva a imagem de líder acima das instituições, alguém capaz de restaurar a ordem contra a “anarquia democrata”. Ao mesmo tempo, grupos paramilitares e milícias locais oferecem um suporte difuso, cuja função não é derrubar o Estado de uma vez, mas criar climas de intimidação localizada, encarecendo a resistência de jornalistas, opositores e comunidades críticas. O uso de litigância agressiva contra tribunais e a multiplicação de disputas judiciais formam, por sua vez, uma estratégia de saturação, na qual o objetivo não é vencer todas as batalhas, mas ganhar tempo, produzir precedentes e esticar os limites constitucionais.
O fator militar continua sendo decisivo. As Forças Armadas norte-americanas carregam uma tradição de apoliticidade e disciplina institucional, e não é trivial que adiram a ordens de caráter autoritário. A adesão dependeria de interpretação jurídica favorável e, sobretudo, de uma conjuntura marcada por violência de grande magnitude. Sem esse gatilho, o uso amplo de tropas permanece restrito e concentrado em D.C. ou em operações pontuais.
A economia, por outro lado, aparece como o freio mais imediato a aventuras autoritárias. A simples tentativa de intervenção no Fed gerou instabilidade nos mercados, com queda de títulos do Tesouro e pressão cambial. O dólar e os Treasuries funcionam como sensores de risco: quando a confiança internacional oscila, o custo político e econômico de manter a escalada cresce exponencialmente. Nesse cenário, o apoio empresarial tende a se dividir: setores interessados em desregulação podem apoiar Trump, mas a instabilidade jurídica e o risco de colapso financeiro afastam parte das elites econômicas.
O que emerge, portanto, não é a imagem de um ditador clássico, mas a possibilidade de um regime híbrido, sustentado por captura institucional seletiva, uso estratégico de forças federais em momentos críticos, pressão econômica e guerra informacional constante. A consolidação desse regime dependerá de três fatores-chave: a resposta das instituições judiciais e estaduais, a reação dos mercados financeiros e a capacidade de Trump de manter sua base mobilizada sem provocar um colapso sistêmico que inviabilize seu próprio governo.
Em síntese, a hipótese de Trump ditador pleno permanece improvável. Mas a hipótese de Trump como líder de um regime híbrido, democrático na forma e autoritário no conteúdo, é cada vez mais plausível. Esse é o risco mais concreto para o futuro imediato dos Estados Unidos: a erosão gradual da democracia, não o golpe súbito. O que está em jogo não é a morte instantânea do sistema, mas a sua corrosão lenta — e é justamente nesse processo que a vigilância, a análise preditiva e o jornalismo estratégico se tornam indispensáveis.
O fantasma da guerra civil
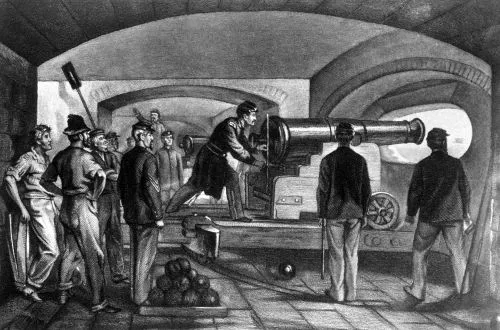
Poucas expressões assombram tanto o imaginário norte-americano quanto a possibilidade de uma nova guerra civil. A referência à ruptura de 1861–1865 aparece como fantasma recorrente sempre que tensões internas se intensificam. No entanto, o cenário atual, em agosto de 2025, exige precisão conceitual: os EUA não caminham para repetir o conflito clássico entre estados escravistas e estados livres, com exércitos formais em confronto aberto. O que se desenha, muito mais plausivelmente, é a hipótese de um conflito difuso, fragmentado e de baixa intensidade, alimentado por polarização informacional, milícias locais, ações de violência política esporádica e tentativas de erosão institucional.
A fragmentação territorial e simbólica é um dos motores desse processo. Estados como o Texas e parte do meio-oeste alimentam discursos de autonomia radical e, em alguns setores, flertam abertamente com o separatismo. O movimento “Texit”, por exemplo, embora minoritário, funciona como catalisador de um imaginário que coloca em xeque a própria unidade da federação. Essa retórica, somada à cultura de armas profundamente enraizada e à existência de milícias paramilitares organizadas, cria uma base fértil para que confrontos localizados assumam caráter político. Ainda que não haja hoje condições materiais para uma guerra civil formal, a disseminação de células armadas autônomas, muitas vezes conectadas em rede via plataformas digitais, já configura um ambiente de violência política persistente.
Esse risco tem sido documentado por centros de pesquisa e think tanks especializados em segurança. Estudos do Chicago Project on Security and Threats (CPOST) e levantamentos da ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) mostram aumento consistente de episódios de violência ligados a motivação política desde 2020. Não se trata de batalhas campais, mas de atentados, ataques a prédios governamentais, intimidação de comunidades minoritárias e choques em protestos. Pesquisadores como Robert Pape alertam que os EUA vivem uma fase de “pré-insurgência difusa”, na qual pequenos atos de violência se somam e geram sensação de instabilidade permanente.
O fator informacional aprofunda esse quadro. A guerra cultural e cognitiva transforma a sociedade americana em dois países que coexistem dentro do mesmo território. De um lado, a narrativa MAGA, que pinta democratas como cúmplices do crime e da anarquia, legitima o uso de medidas excepcionais. De outro, a oposição denuncia Trump como autocrata em formação, reforçando percepções de que a democracia já foi capturada. Essa polarização radical não se limita a opiniões divergentes: ela cria universos informacionais incomunicáveis, onde fatos objetivos são recusados e a confiança em instituições como a imprensa, o Judiciário e o sistema eleitoral se dissolve.
É nesse ambiente que a hipótese da guerra civil ganha corpo como metáfora de colapso. Não porque veremos novamente estados do sul declarando secessão formal, mas porque a federação norte-americana pode entrar em uma fase de desagregação funcional: governadores resistindo às ordens presidenciais, prefeitos ignorando decretos federais, cortes locais emitindo decisões contraditórias, enquanto grupos civis armados reforçam o clima de medo e incerteza. O resultado é uma democracia que continua existindo formalmente, mas perde a capacidade de coordenar e arbitrar conflitos — uma república dividida em blocos irreconciliáveis.
Os sinais desse processo já estão visíveis. O envio de tropas para Washington e a ameaça de intervenção em Chicago acentuam a percepção de que o governo federal atua contra estados e cidades inteiras, não apenas contra indivíduos ou organizações criminosas. Os alertas do Departamento de Segurança Interna (DHS) sobre risco de violência política doméstica refletem essa leitura: qualquer manifestação pode se tornar palco de confronto entre grupos armados e forças federais. Ao mesmo tempo, a queda na confiança da população nas instituições, medida por pesquisas como a Bright Line Watch, indica que o contrato social que sustentou os EUA no pós-guerra já não tem a mesma força.
O fantasma da guerra civil, portanto, não é apenas retórico. Ele opera como lente para compreender um país que se desgarra por dentro, não em linhas de frente claras, mas em múltiplos pontos de atrito. A violência difusa, os discursos separatistas, a fragmentação informacional e a erosão das instituições convergem para um cenário em que o risco não é de guerra civil clássica, mas de um conflito prolongado de baixa intensidade, capaz de corroer a legitimidade da democracia americana e paralisar sua capacidade de governar.
Cenários preditivos (curto e médio prazo)
Antecipar o futuro em momentos de ebulição política exige separar a espuma da conjuntura dos sinais estruturais. No caso norte-americano, a partir da conjuntura de agosto de 2025, identificam-se quatro trajetórias principais para os próximos meses. Nenhum desses cenários deve ser lido como destino inevitável, mas como mapa de possibilidades, onde cada sinal observável pode aproximar ou afastar uma linha de futuro.
Contenção institucional (40–50%)
Este é o cenário-base. Os tribunais federais e estaduais limitam as ações mais radicais da Casa Branca, governadores ampliam sua resistência, o Congresso pressiona por investigações e as forças armadas evitam envolvimento além de missões pontuais. Trump mantém o discurso inflamado, mas vê seu espaço de ação restringido por derrotas judiciais e pela reação negativa dos mercados ao ataque à independência do Federal Reserve. O resultado é instabilidade alta, mas sem ruptura sistêmica.
Sinais de alerta precoce: decisões de cortes em D.C. e Califórnia limitando deslocamento de tropas; resistências explícitas de comandantes militares; pressão bipartidária no Congresso contra interferência no Fed.
Escalada controlada (25–35%)
Trump mantém tropas em Washington e avança com operações em cidades democratas estratégicas, como Chicago, sem acionar formalmente o Insurrection Act. A tensão federativa cresce, mas ainda se processa nos tribunais. O clima social se agrava, com protestos violentos e contra-protestos organizados pela base MAGA. O governo busca vitórias narrativas: mostrar força sem romper de vez as regras.
Sinais de alerta precoce: novas ordens executivas ampliando autoridade federal sobre polícias locais; crescimento do número de Guardas Nacional federalizados; protestos em capitais com incidentes de violência política.
Crise constitucional aguda (10–20%)
Neste cenário, Trump decide invocar o Insurrection Act, alegando insurreição ou ameaça à integridade do país. A medida abre confronto direto com governadores democratas que se recusam a obedecer, criando impasse federativo. O mercado financeiro reage com colapso nos títulos do Tesouro e fuga de capitais. A polarização atinge patamar máximo: parte da população vê no presidente um protetor, outra o acusa de instaurar ditadura. Esse cenário abre a porta para violência política mais coordenada, com milícias agindo como extensão do conflito institucional.
Sinais de alerta precoce: ordem formal de invocação do Insurrection Act; governadores emitindo diretrizes de desobediência; reação negativa em bloco de Wall Street e do dólar.
Descompressão estratégica (10–15%)
Sob pressão econômica e política, Trump recua parcialmente. Algumas tropas deixam D.C., e a Casa Branca muda o tom da retórica, transformando a crise em vitória narrativa para a base: “fizemos a esquerda recuar”. O presidente mantém popularidade dentro de seu núcleo duro, mas perde margem de manobra no Congresso e no Judiciário. O sistema democrático respira, mas não sem feridas: o precedente da intervenção já está aberto.
Sinais de alerta precoce: retirada parcial de forças; declarações conciliatórias da Casa Branca; pesquisas de opinião indicando queda acentuada de apoio fora da base MAGA.
Síntese estratégica
A análise preditiva indica que a ditadura clássica é improvável, mas o risco de um regime híbrido autoritário permanece alto. O país pode não mergulhar em guerra civil formal, mas a probabilidade de viver um período de conflito difuso, erosão institucional e polarização violenta é real e crescente. O que está em jogo é a transformação dos EUA em uma república permanentemente instável, onde o poder se disputa tanto no campo jurídico e militar quanto no terreno simbólico e informacional.
A guerra híbrida interna dos EUA

A engrenagem que sustenta a escalada de tensão doméstica nos Estados Unidos funciona como um verdadeiro ecossistema de guerra informacional. Ele combina enquadramentos de “lei e ordem”, saturação de desinformação, instrumentalização de plataformas digitais e mobilização de base para produzir pressão cognitiva e política sobre governadores, prefeitos, juízes e a opinião pública. O próprio Departamento de Segurança Interna reconhece, em seus relatórios de avaliação de risco, que extremistas violentos domésticos e atores estrangeiros exploram gatilhos conjunturais — como conflitos externos, ciclos eleitorais e crises — para incitar ataques e intimidar autoridades. Esse ambiente é classificado como de ameaça elevada, pois cria condições ideais para justificar medidas de exceção e radicalizar a disputa institucional.
No núcleo dessas operações está o uso político da incerteza: transformar ambiguidade em medo tangível. A erosão do papel de fatos e análises na vida pública desarma a sociedade em sua capacidade de arbitrar disputas, abrindo espaço para que narrativas de força se imponham. Essa dinâmica é alimentada por vieses cognitivos, polarização midiática e por uma arquitetura de plataformas digitais que recompensam o conflito e a radicalização. Trata-se de um terreno fértil para operações psicológicas, propaganda memética e engenharia de comportamento em larga escala.
Na camada técnico-operacional, observa-se um conjunto de táticas conhecidas: campanhas que simulam apoio orgânico (astroturfing), redes coordenadas de bots e contas falsas, microsegmentação de mensagens, assédio direcionado a jornalistas e pesquisadores, além da litigância agressiva que busca elevar o custo de resistência institucional. Ao mesmo tempo, cria-se um jamming informacional, sufocando o espaço público com ruído, falsos dilemas e contrainformações, de forma a tornar mais difícil o consenso em torno de fatos básicos. Estudos sobre propaganda computacional já documentaram a industrialização dessas práticas em escala global, e o caso norte-americano de 2025 é uma expressão clara dessa tendência.
Esse ambiente informacional interage diretamente com a dinâmica da violência. Pesquisas recentes mostram a normalização de ameaças e ataques politicamente motivados, incluindo atentados contra agentes públicos, intimidação de comunidades minoritárias e choques em protestos. O padrão não sugere uma guerra civil convencional, mas sim um conflito difuso e intermitente, capaz de legitimar retóricas de exceção e sustentar o emprego tático de forças federais em cidades estratégicas.
No plano institucional, observa-se uma arquitetura programática deliberada para aparelhar o Estado. O chamado Project 2025, coordenado pelo think tank Heritage Foundation, funciona como manual de transição que detalha como reorientar o aparato federal, desde agências regulatórias até políticas de comunicação e educação. Esse projeto combina planejamento burocrático, formação de quadros e planos de ação para cada agência, funcionando como verdadeiro playbook de captura institucional. Em conjunto com o uso de tropas em Washington e o tensionamento sobre a independência do Federal Reserve, essa estratégia cria capacidade de alavancagem sem necessidade de ruptura formal.
A janela de oportunidade para essa guerra híbrida interna se abre quando três vetores convergem: em primeiro lugar, um alerta oficial de ameaça que cria clima de emergência; em segundo, um precedente executivo que amplia o alcance federal em segurança interna; e, por fim, uma infraestrutura de mensagens capaz de transformar contradições institucionais em provas de “fraqueza” dos adversários. Quando esses três fatores se articulam, produzem efeitos cumulativos: o público tende a aceitar medidas excepcionais, o custo de contestação sobe e a oposição é empurrada para jogar na defensiva, onde cada derrota parece confirmar a narrativa de caos e de desordem.
Os contrapesos ainda existem e vêm de três frentes: cortes judiciais, governadores e mercados. Sempre que a Casa Branca avança sobre agências independentes ou expande unilateralmente os poderes executivos, há reações institucionais e econômicas que penalizam a instabilidade. Esse ciclo retroalimenta a disputa simbólica: para a base de Trump, tais resistências confirmam a existência de um “Estado profundo” que conspira contra o presidente; para seus adversários, são a prova da resiliência democrática. O resultado é a intensificação da erosão institucional e a normalização de precedentes excepcionais.
Em síntese, as táticas de guerra híbrida e de propaganda digital não são acessórios na conjuntura atual: são o centro de gravidade que permite transformar choques pontuais — protestos, crimes, tensões externas — em licença política para a exceção interna. Enquanto persistirem alertas de risco elevado, episódios de violência política e estratégias coordenadas de captura institucional, o risco dominante para os EUA não é o de uma ruptura súbita, mas de um regime híbrido autoritário sustentado por guerra informacional permanente.
Impactos globais e geopolítica

A crise doméstica dos Estados Unidos em agosto de 2025 reconfigura o tabuleiro internacional em três camadas simultâneas: legitimidade, capacidade de projeção e arquitetura econômico-financeira. Na primeira, a erosão pública dos freios e contrapesos corrói a narrativa de “padrão democrático” que, por décadas, sustentou a diplomacia norte-americana. Não se trata apenas de imagem: quando a capital federal opera sob precedentes de exceção e a independência de agências é tensionada, parceiros passam a recalibrar custos de alinhamento, e adversários exploram o vácuo reputacional para deslegitimar sanções, relatórios de direitos humanos e condicionantes políticas. Essa perda gradual de autoridade moral reduz a capacidade de moldar normas — do ciberespaço à regulação de plataformas e inteligência artificial — e abre espaço para multipolaridade normativa, na qual blocos regionais adotam padrões próprios sem pedir chancela a Washington.
Na segunda camada, a capacidade de projeção sofre com a sobrecarga interna. Forças armadas e aparato de segurança veem sua agenda contaminada por demandas domésticas, o que comprime o raio de ação externo e dificulta a coordenação interagências. Em termos práticos, a prioridade política migra do teatro internacional para o “front interno”, e isso tem efeitos: menor apetite para operações longas, alianças pedindo mais garantias, e uma OTAN que, mesmo coesa em seus objetivos declarados, enfrenta assimetria de compromissos quando a liderança norte-americana oscila. Ao mesmo tempo, competidores estratégicos — em especial China e Rússia — exploram a janela para intensificar acordos energéticos, tecnológicos e militares fora da órbita de Washington, enquanto o eixo BRICS+ ganha tração como plataforma de hedge geopolítico para países médios.
A terceira camada é a arquitetura econômico-financeira. A pressão explícita sobre a independência do banco central e a judicialização de decisões executivas ampliam a percepção de risco regulatório, com reflexos em prêmios de crédito, volatilidade cambial e comportamento de grandes fundos. Em crises dessa natureza, dois movimentos tendem a coexistir: fuga para “portos seguros” tradicionais (títulos de alta qualidade, ouro) e, em paralelo, aceleração de alternativas no comércio e nos pagamentos internacionais (contratos em moedas locais, arranjos bilaterais de compensação, uso ampliado de sistemas de mensagens e compensação fora da esfera dólar). Não há substituto imediato ao dólar como reserva global, mas cada precedente de exceção abre milímetros de espaço para diversificação — e, acumulados, esses milímetros viram centímetros estratégicos.
Para a América Latina, e especialmente para o Brasil, o impacto é direto. No curto prazo, o risco é de exportação de métodos: redes políticas e comunicacionais alinhadas à ultradireita norte-americana tendem a mimetizar repertórios de deslegitimação institucional, combinando lawfare, campanhas de desinformação e narrativas de “lei e ordem” para justificar endurecimentos seletivos. No plano econômico, uma Casa Branca volátil pode alternar tarifas punitivas, barreiras técnicas e pressões regulatórias sobre cadeias de valor sensíveis (aço, alumínio, fertilizantes, tecnologia), instrumentalizando comércio como alavanca política. No plano tecnológico, a disputa por padrões de IA, dados e plataformas chegará com mais força às agências e ao Congresso brasileiros, exigindo respostas que combinem soberania informacional, interoperabilidade e proteção de dados com autonomia estratégica
Há, porém, janelas de oportunidade. Em ciclos de retração da liderança norte-americana, países com massa crítica — como o Brasil — podem ampliar diplomacia de ponte entre regimes regulatórios, diversificar mercados, consolidar capacidade industrial em setores estratégicos (energia, fertilizantes, semicondutores de nicho, espaço, cibersegurança) e acelerar integrações regionais logísticas e digitais. A chave é não apostar em vácuos, mas em redundâncias soberanas: múltiplos cabos, múltiplos data centers, múltiplos provedores de nuvem, múltiplos sistemas de pagamento e um ecossistema nacional de IA com lastro acadêmico e industrial.
Do ponto de vista preditivo, três sinais-guia devem ser monitorados para antecipar desdobramentos globais: (1) persistência da exceção doméstica nos EUA (quanto tempo e quão amplo o uso interno de forças federais e de instrumentos extraordinários), (2) respostas de mercado à política monetária e às disputas institucionais (incluindo spreads, curvas de juros e demanda por títulos), e (3) realinhamentos diplomáticos discretos, como acordos energéticos e tecnológicos que contornem a intermediação norte-americana. A combinação de dois ou mais desses sinais, mantida por semanas, indica recalibração estrutural do sistema internacional, não mera turbulência conjuntural.
Para formuladores de políticas no Brasil, o cardápio estratégico é claro: blindar a infraestrutura crítica de informação e pagamentos, reduzir vulnerabilidades a sanções e choques extrarregionais, consolidar parcerias tecnocientíficas com cláusulas de transferência de conhecimento e exigir governança transparente de plataformas digitais que operam no país. No campo comunicacional, o jornalismo estratégico precisa preparar comunidades de prática para ciclos de desinformação importados, com protocolos de alerta precoce, verificações forenses e kits de resposta que integrem governo, academia, imprensa e sociedade civil.
Em suma, a crise doméstica dos EUA funciona como força sísmica que desloca placas de legitimidade, projeção e finanças. Não inaugura o multipolarismo, mas acelera sua normalização. Quem se antecipar com redundâncias soberanas, diplomacia de ponte e inteligência estratégica poderá absorver o choque e converter instabilidade em margem de manobra. Quem esperar pela “volta ao normal” corre o risco de descobrir que o normal, na verdade, mudou de endereço.
Conclusão: entre a guerra difusa e o autoritarismo híbrido

A análise da conjuntura norte-americana em agosto de 2025 permite afirmar que a hipótese de Trump como ditador pleno permanece improvável, mas que o risco de consolidação de um regime híbrido autoritário é cada vez mais plausível. A escalada não se dá por meio de um golpe súbito, mas pela erosão gradual dos freios e contrapesos, pela captura seletiva de instituições, pelo uso episódico e calculado das forças federais, pela pressão sobre agências independentes e pela manutenção de uma guerra informacional permanente. A ideia de uma nova guerra civil, por sua vez, não se sustenta nos moldes clássicos da ruptura de 1861, mas se manifesta como a possibilidade de um conflito difuso de baixa intensidade, espalhado em protestos violentos, ações de milícias, retórica separatista e polarização informacional radicalizada.
O que se viu neste mês é um ponto de inflexão: a decisão de militarizar Washington, a ameaça de expandir operações para cidades democratas e o ataque direto à independência do Federal Reserve. Esses movimentos revelam a intenção de expandir o alcance presidencial sobre territórios, instituições e fluxos econômicos, testando até onde a estrutura federativa, o Judiciário e os mercados estão dispostos a resistir. Até agora, a reação de governadores, cortes e atores financeiros funciona como freio real, encarecendo a aventura autoritária. Mas cada precedente de exceção deixa marcas: normaliza o uso de medidas extraordinárias, enfraquece a confiança pública nas instituições e reconfigura o equilíbrio de poder.
A chave, portanto, não está em prever um colapso súbito, mas em monitorar a intensidade e a duração desses processos de erosão. Quando ordens executivas se transformam em precedentes de exceção mantidos por semanas, quando decisões judiciais são contornadas ou desobedecidas, quando a independência de agências centrais se fragiliza e quando a violência política se torna mais frequente, o risco de consolidação autoritária se eleva. Do mesmo modo, a reação dos mercados — visível na volatilidade do dólar e dos títulos do Tesouro — funciona como termômetro imediato da viabilidade dessa escalada. Quanto maior o custo econômico, mais difícil sustentar um regime autoritário; quanto mais tolerável o custo, mais fácil naturalizar a exceção.
No plano estratégico, essa crise interna desloca não apenas a política doméstica, mas também a posição dos Estados Unidos no mundo. A perda de autoridade moral como referência democrática, a sobrecarga das forças de segurança em tarefas internas e a desconfiança dos mercados internacionais corroem a legitimidade, a projeção externa e a arquitetura financeira global liderada por Washington. Para países como o Brasil, os impactos se manifestam em dois sentidos: por um lado, a exportação de métodos de desinformação e lawfare que já influenciam elites locais; por outro, a oportunidade de reforçar redundâncias soberanas em infraestrutura, dados, finanças e tecnologia, reduzindo vulnerabilidades diante de um império em crise.
O papel do jornalismo estratégico neste contexto é oferecer não apenas descrição, mas sistemas de alerta precoce que transformem sinais em cenários, cenários em hipóteses e hipóteses em ação. O que está em jogo é a capacidade de antecipar, de medir e de comunicar com rigor os riscos de erosão democrática, tanto para a sociedade quanto para os tomadores de decisão. Informação sem método vira ruído; método sem comunicação não altera o curso da história. O desafio, portanto, é sustentar uma análise verificável, conectada a indicadores claros e aberta ao escrutínio público, capaz de distinguir alarmismo vazio de predição estratégica.
Em suma, os Estados Unidos não parecem caminhar para a morte súbita da democracia, mas para sua corrosão lenta. A guerra difusa e o autoritarismo híbrido configuram o horizonte mais provável: uma república que continua existindo formalmente, mas cuja legitimidade e capacidade de governar se fragilizam a cada semana. Nesse cenário, a vigilância institucional, a reação de mercados e a resistência civil tornam-se determinantes. Mais do que nunca, compreender esse processo não é apenas tarefa de acadêmicos ou jornalistas, mas de toda sociedade que queira sobreviver à tempestade informacional e política do século XXI.
