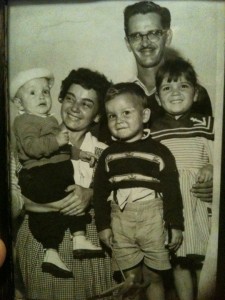
Um repórter da grande imprensa me procura para falar do caso Palocci.
Ele parece surpreso por ouvir de mim que pessoas no poder gostam de falar diretamente com os donos. Mais de uma vez citei, aqui, Churchill, que como primeiro ministro só falava reservadamente com os donos dos jornais, não com os jornalistas.
É fácil entender isso.
Os políticos se sentem, muitas vezes, mais seguros. Combinada alguma coisa com o proprietário, os editores dos jornais não farão nada diferente. E se um artigo incomodar, eles sabem a quem reclamar. Serra é conhecido por fazer isso: ligar para os donos para se queixar. Muita gente já foi demitida por isso, o que ajuda a entender por que os jornalistas abominam Serra.
São raros os editores que se insurgem contra esse modelo. Lembro que Guzzo e Elio, na Veja dos anos 80, adotavam o seguinte procedimento. Queixas em relação a nós devem ser tratadas conosco. Quem fosse procurar os donos pagava o preço de jamais voltar a ter acesso a eles dois. Entrava na geladeira.
Mas Guzzos e Elios são raros.
Há um entendimento geral de que costumamos ser – para usar a memorável expressão com que Evandro Carlos de Andrade se autodefiniu para convencer Roberto Marinho a dar-lhe a redação do Globo, segundo a boa biografia feita por Pedro Bial – “papistas”.

Fazemos o que o Papa – o dono — manda.
Lembro uma reunião do Conselho Editorial da Globo, o Conedit, no fragor de uma crise estrepitosa entre Lula e mídia, em que João Roberto Marinho nos comunicou sinteticamente os termos de uma conversa que tivera com o presidente. Lula expressara o cachimbo da paz entre ambos da seguinte forma: “Você cuida dos seus aloprados que eu cuido dos meus.”
Não sei se Ali Kamel e Merval Pereira acharam que era com eles. Mas devem ter entendido a mensagem, como bons papistas que são, ao estilo de seu guru Evandro.
Quando não somos, o caminho fica mais limitado. Meu pai não era, por exemplo. Uma vez Frias pediu a ele que escrevesse um editorial que dissesse que não havia presos políticos, apenas presos comuns. Eram meados dos anos 60, e os presos políticos estavam fazendo uma greve de fome. Papai recusou fazer e pagou o preço de ser encostado.
Sérgio Pompeu, que foi um dos primeiros diretores de redação da Veja e antes disso trabalhou na Folha com meu pai, me disse a primeira vez que me viu: “Seu pai teria sido presidente da Folha se fosse diferente.”
Mas não era.
Meu pai foi melhor do que sou. Bem melhor. É e sempre será minha maior inspiração na tentativa de me elevar em todos os campos.
Aquele traço de papai passou apenas parcialmente para mim. Uma vez, na Abril, fui encaminhado para um curso que estava em voga entre os executivos na década de 2 000: counselling, ou aconselhamento. Tive a chance de conhecer uma das figuras mais interessantes que vi na vida corporativa, o conselheiro – e headhunter – Luiz Carlos Cabrera. Cabelos brancos, porte de Papai Noel, um sorriso genuíno no rosto, bom senso e sabedoria nas palavras, Cabrera me encaminhou, antes de tudo, para um psicólogo. Fui submetido a uma bateria de testes de algumas horas. Achei bobagem até ver o resultado. “Você é um cara que depende de resultados. É péssimo em política corporativa.”
Em outras palavras, eu era um papista – mas sem a espinha flexível da maior parte da categoria .
Tinha que me aprimorar nisso se quisesse ir adiante. Tentei até, mas não era minha natureza. Este é um dos motivos pelos quais jamais vou voltar a ser executivo de uma corporação. Tive a minha cota de coquetéis enfadonhos, de reuniões soporíferas e de funções burocráticas que me impediram de escrever.
Anuncio aqui a quem interessar possa que estou na etapa final de um trajeto que me levará – enfim – a meu próprio negócio na mídia quando retornar ao Brasil, em 2012. Mas isso depois de quatro meses de praia para pisar na areia molhada, dormir com o barulho das ondas, terminar meus livros e matar, na plenitude, a saudade do mar.
Não estou julgando ninguém aqui. Me pergunto, caso fosse dono, se não procuraria um editor que fosse papista com o talento nisso de Evandro. Tendo a achar que não, porque são menos arrojados e inovadores, mas não tenho certeza.
Já expliquei por que os políticos poderosos gostam de conversar com os donos. Os donos gostam das conversas com os políticos que estão no poder basicamente por duas razões. Uma é que é a chance de tentar influenciá-los a levar o país na direção que eles, os proprietários, imaginam a melhor.
Imagine que você tenha acesso ao treinador da seleção brasileira de futebol. Por que você não convoca aquele jogador? Por que você não faz o time jogar mais ofensivamente, como o Barcelona? Será que você não percebe que este esquema de jogo é melhor que aquele?
A segunda razão é que dá prestígio este contato. Na biografia de Frias feita por Engel Paschoal, isto está bem explicado. No começo dos anos 1960, o idealista proprietário da Folha, Nabantino, estava desiludido com seus jornalistas. Achava que eles – incluuído papai – o tinham traído ao fazer uma greve. Decidiu vender o jornal. Um amigo de Frias, então um dono de granja, recomendou-lhe que comprasse a Folha com o seguinte argumento: “Dinheiro você já tem. O jornal vai te dar prestígio.” Quando você olha as fotos do livro, vê Frias com todos os homens poderosos da época, uma situação inimaginável para um dono de granja. (Ao procurar uma foto que mostrasse isso, fui dar no verbete Frias da Wikipédia. Nele, Frias é tratado como “jornalista, editor e empresário”. Se todos os jornalistas escrevessem a quantidade de textos que Frias e mais Roberto Marinho produziram, os jornais brasileiros sairiam rotineiramente em branco. Coloquemos assim: se eles foram jornalistas, eu não sou.)

Nas Organizações Globo, o interlocutor do mundo político é João Roberto Marinho. Uma das versões que chegaram a mim para a demissão de Juan Ocerin do cargo de diretor geral da Editora Globo em 2008 — cheguei a ouvir que ele fora mandado embora por ser espanhol – é que havia um incômodo com os encontros com políticos que ele estava promovendo regularmente na editora Globo. Participei de quase todos, e eram em geral enfadonhos, despretensiosos e fundamentalmente inúteis. Apenas Juan parecia feliz por conversar com pessoas fora de seu acesso habitual. Mesmo assim teriam causado insatisfação no comando da Globo no Rio.
É por essas circunstâncias que já manifestei minha estranheza em relação aos continuados elogios de Clovis Rossi a Frias por um suposto furo na doença que levaria Tancredo Neves à morte às vésperas de se tornar o primeiro presidente civil depois da ditadura militar. Muito provavelmente um poderoso simplesmente pegou o telefone e passou a informação ao “repórter” Frias. Nem mais nem menos que isso.
Se Rossi fosse o dono do jornal, o “furo” quase que certamente seria dele.
