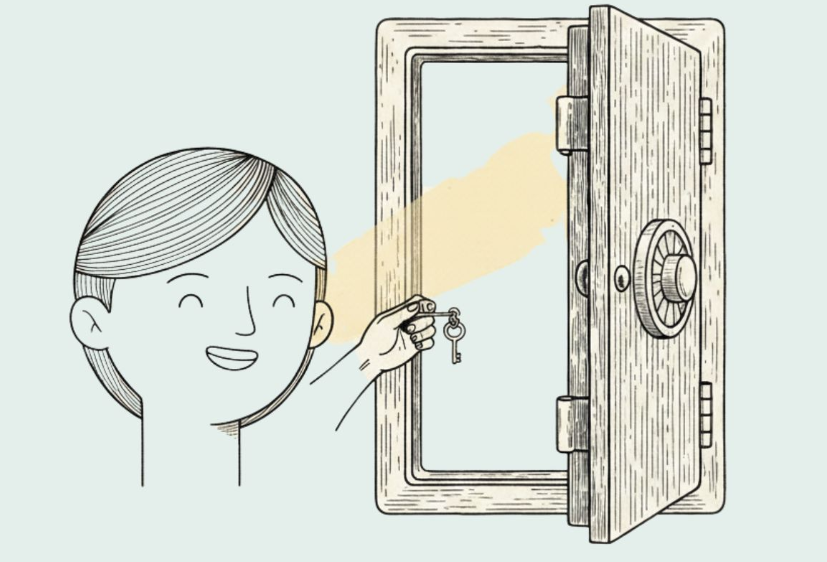
Por José Manuel Diogo
Lido a partir do eixo atlântico, o ensaio no The Economist deixa de ser apenas um texto sobre felicidade e passa a funcionar como espelho histórico. Em ambos os lados do oceano, as pessoas tendem a avaliar positivamente a própria vida e negativamente o destino coletivo. Não se trata de ignorância estatística; trata-se de uma herança. O país nunca foi plenamente vivido como casa. Foi império, foi promessa, foi frustração — raramente foi chão firme.
Em Portugal, a melancolia tornou-se idioma cívico. A ideia de decadência atravessa séculos e reaparece, com nova roupagem, a cada crise. No Brasil, a sensação de emergência permanente produz um ruído contínuo que transforma o futuro em ameaça cró[ô]nica. Em ambos os casos, a experiência concreta — trabalho, família, redes de apoio — funciona melhor do que a narrativa nacional que a enquadra. O problema não é o real; é a imaginação social que o precede.
Os dados reforçam o paradoxo. Indicadores de bem-estar subjetivo mostram avaliações pessoais mais altas do que as avaliações sobre o país, padrão observado em levantamentos internacionais e em bases nacionais como o World Values Survey, a PORDATA e o IBGE. A leitura apressada atribui isso ao “excesso de notícias negativas”. É insuficiente. Há uma camada mais funda: a longa desconfiança institucional ensinou o cidadão a investir no círculo próximo e a narrar o país como entidade falível por definição.

Esse descompasso cobra um preço político. Quando o coletivo parece condenado, a responsabilidade desloca-se para o privado. A casa torna-se refúgio, não laboratório. Indignamo-nos, partilhamos, comentamos — mas agimos menos. A democracia perde densidade quando a experiência vivida deixa de ser critério de verdade pública. O cotidiano, silencioso e repetitivo, não compete com a exceção amplificada; e assim o país passa a existir apenas como ruído.
Há, porém, um outro lado dessa história comum. A mesma elasticidade que permitiu sobreviver à distância do Estado — o improviso português, o jeitinho brasileiro — é também uma reserva de ação. Quando convertida em política de proximidade, em instituições que aprendem com a vida real, essa capacidade individual pode recompor o vínculo coletivo. O ensaio sugere isso ao lembrar que “sociedades que acreditam que agir faz diferença produzem soluções melhores do que as paralisadas pelo pessimismo total.
Portugal e Brasil erram quando confundem prudência com desconfiança estrutural. A vida que resiste não é uma bolha; é evidência. Reaprender a usar a experiência direta como régua do país é condição para que o futuro deixe de ser um rumor e volte a ser um projeto.
O Atlântico não nos separa aqui — ele repete o mesmo aviso.
Publicado originalmente no blog do autor
