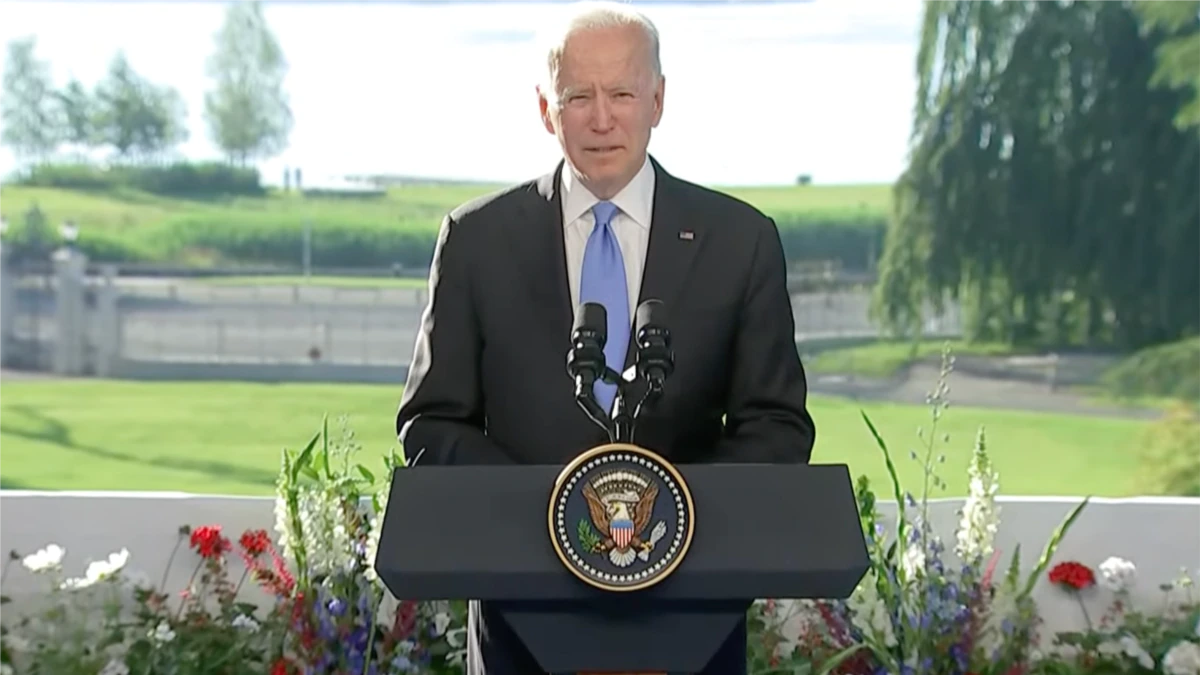
As tensões entre a Rússia e a Ucrânia continuam a escalar e há pouco espaço para otimismo, uma vez que as propostas dos EUA para a desescalada do conflito não cumprem nenhuma das exigências de segurança da Rússia. Assim, não seria mais preciso dizer que a crise fronteiriça entre Rússia e Ucrânia deriva na realidade da posição intransigente dos EUA sobre integrar a Ucrânia na Nato? Neste mesmo contexto, é difícil imaginar qual seria a resposta de Washington à hipotética eventualidade do México querer aderir a uma aliança militar promovida por Moscovo?
Noam Chomsky: Não precisamos de nos debruçar muito sobre a última questão. Nenhum país ousaria fazer tal movimentação na zona que Henry Stimson, o secretário da Guerra do ex-presidente Franklin Delano Roosevelt, chamou “a nossa pequena região aqui” quando estava a condenar todas as esferas de influência (exceto a nossa – que, na realidade, não se limita ao hemisfério ocidental). O secretário de Estado Antony Blinken não é hoje menos inflexível na condenação da pretensão da Rússia a uma “esfera de influência”, um conceito que rejeitamos firmemente (sempre com a mesma reserva).
Houve, claro, um caso famoso em que um país na “nossa pequena região” esteve perto de uma aliança militar com a Rússia, durante a crise dos mísseis de 1962. As circunstâncias, contudo, foram bastante diferentes das que acontecem na Ucrânia. O presidente John F. Kennedy estava a escalar a sua guerra terrorista contra Cuba através de uma ameaça de invasão; a Ucrânia, o que contrasta nitidamente com esta situação, enfrenta ameaças como resultado de potencialmente aderir a uma aliança militar hostil. A decisão insensata do líder soviético Nikita Khrushchev de fornecer mísseis a Cuba era também um esforço para retificar ligeiramente a enorme preponderância militar dos EUA depois de JFK ter respondido à oferta de Khrushchev para uma redução mútua de armas ofensivas com o maior aumento de investimento militar na história dos períodos de paz, apesar dos EUA já se encontrarem muito à frente nesse domínio. Sabemos ao que isso levou.
As tensões sobre a Ucrânia são extremamente graves com a concentração de forças militares russas nas fronteiras ucranianas. A posição russa já é bastante clara há algum tempo. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, apresentou na sua conferência de imprensa nas Nações Unidas: “a questão principal é a nossa posição clara sobre a inadmissibilidade da uma maior expansão da Nato para leste e o destacamento de armas de ataque que possam ameaçar o território da Federação Russa”. O mesmo foi reiterado pouco depois por Putin, tal como ele já tinha feito muitas vezes antes. Há uma forma simples de lidar com o destacamento destas armas: não as destacar. Não há justificação para o fazer. Os EUA podem alegar que são defensivas, mas a Rússia certamente não o vê da mesma forma e com razão.
A questão da expansão é mais complexa. A questão vem de há 30 anos, quando a URSS estava a colapsar. Houve amplas negociações entre a Rússia, os EUA e a Alemanha (o tema principal era a unificação alemã). Duas visões confrontaram-se e o líder soviético, Mikhail Gorbachev, propôs um sistema de segurança euroasiático de Lisboa a Vladivostok sem blocos militares. Os EUA rejeitaram-no: a Nato mantém-se, o Pacto de Varsóvia desaparece.
Por razões óbvias, a reunificação alemã no âmbito de uma aliança militar hostil não era uma questão de somenos importância para a Rússia. Contudo, Gorbachev concordou mas com um quid pro quo: não haveria expansão a leste. O presidente George H.W. Bush e o secretário de Estado James Baker concordaram. Nas suas palavras (link is external) a Gorbachev: “não apenas para a União Soviética mas também para outros países europeus é importante ter garantias de que se os Estados Unidos mantiverem a sua presença na Alemanha no quadro da Nato, a atual jurisdição militar da Nato não se irá alargar um centímetro para leste.” “Leste” queria dizer Alemanha do Leste. Ninguém pensava em mais nada para além disso, pelo menos publicamente. Isto ficou acordado por ambos os lados. Os líderes alemães foram ainda mais explícitos sobre isto. Estavam exultantes com o acordo da Rússia para a unificação e a última coisa que queriam eram novos problemas.
Há muita investigação académica sobre este assunto – Mary Sarotte, Joshua Shifrinson e outros debatem exatamente quem disse o quê, o que queriam dizer com isso, qual o estatuto do que diziam e por aí adiante. É um trabalho interessante e esclarecedor mas, quando a poeira assenta, resume-se ao que citei dos registos que deixaram de ser classificados como secretos.
O presidente H.W. Bush cumpriu estes compromissos. Assim como Bill Clinton começou por o fazer, até 1999, no 50º aniversário da Nato; com vista às eleições polacas que estavam à beira, especulam alguns. Admitiu a Polónia, a Hungria e a República Checa na Nato. O presidente George W. Bush – o adorável avô pateta que foi celebrado na imprensa no 20º aniversário da sua invasão do Afeganistão – quebrou todos os limites. Deixou entrar os estados bálticos, entre outros. Em 2008, convidou a Ucrânia a aderir à Nato, espicaçando o urso. A Ucrânia fica no coração geo-estratégico da Rússia, para além das relações históricas íntimas e de uma grande parte da população influenciada pela Rússia. A Alemanha e a França vetaram o convite imprudente de Bush, mas este continua em cima da mesa. Nenhum líder russo aceitaria isso, Gorbachev certamente não, como ele deixou claro. Tal como no caso de colocação de armas ofensivas na fronteira russa há uma resposta direta. A Ucrânia pode ter o mesmo estatuto da Áustria e de dois dos países nórdicos durante toda a Guerra Fria: neutral, mas ligada de perto ao Ocidente e segura, parte da União Europeia na medida em que o escolha ser.
Os EUA recusam firmemente este desfecho, proclamando altivamente a sua dedicação apaixonada à soberania das nações, que não poderia ser infringida: o direito da Ucrânia a aderir à Nato deveria ser honrado. Esta tomada de posição principista pode ser louvada nos EUA mas provoca certamente gargalhadas em grande parte do mundo, incluindo no Kremlin. O mundo não desconhece a nossa dedicação inspiradora à soberania, nomeadamente nos três casos que enfureceram particularmente a Rússia: o Iraque, a Líbia e o Kosovo-Sérvia.
O Iraque não necessita ser discutido: a agressão dos EUA provocou a ira de quase todos. Os assaltos da Nato na Líbia e Sérvia, em ambos os casos uma estalada na Rússia durante o seu declínio acentuado nos anos 1990, foi mais mascarada com trajes de humanitarismo justo de acordo com a propaganda dos Estados Unidos. Se os escrutinarmos a máscara cai rapidamente, como já foi amplamente documentado. E o registo mais rico da reverência dos EUA pela soberania das nações não precisa de ser revisto.
Por vezes alega-se que a pertença à Nato aumenta a segurança da Polónia e de outros países. Pode-se contrapor o argumento mais forte de que a pertença à Nato ameaça a sua segurança já que aumenta as tensões. O historiador Richard Sakwa, especialista na Europa de Leste, observou que “a existência da Nato justificou-se através da necessidade de gerir as ameaças provocadas pelo seu alargamento” – uma consideração plausível.
Há muito mais a dizer sobre a Ucrânia e como lidar com esta crise muito perigosa mas talvez isto já seja suficientemente para sugerir que não há necessidade de inflamar a situação e passar ao que poderia muito bem vir a tornar-se numa guerra catastrófica. Há, de facto, algo de surreal na rejeição dos EUA de uma neutralidade do estilo austríaco para a Ucrânia. Os decisores políticos dos EUA sabem perfeitamente bem que a entrada da Ucrânia na Nato não é uma opção num futuro previsível. Podemos, claro, deixar de lado a postura ridícula sobre a santidade da soberania. Para defender um princípio em que não acreditam nada e na tentativa de alcançar um objetivo que sabem estar fora de alcance, os EUA arriscam o que poderia ser uma catástrofe chocante. À superfície, parece incompreensível mas há cálculos imperiais plausíveis.
Podemos perguntar porque é que Putin assumiu uma postura tão beligerante no terreno. Há toda uma indústria artesanal que procura resolver este mistério: será um louco? Estará planeando forçar a Europa a tornar-se um satélite russo? O que estará a tramar?
Uma das formas de descobrir é ouvir o que ele diz. Desde há anos, Putin tem tentado que os EUA prestem alguma atenção ao que ele e o ministro dos Negócios Estrangeiros têm repetido. Em vão. Uma possibilidade é que esta mostra de força seja uma forma de alcançar este objetivo. Isto foi sugerido (link is external) por analistas muito bem informados. Se assim foi, parece ter sido bem sucedido, pelo menos de uma forma limitada.
A Alemanha e a França já tinham vetado iniciativas anteriores dos EUA para conceder o estatuto de membro à Ucrânia. Então porque é que os EUA insistem tanto na expansão para leste da Nato ao ponto de considerarem uma invasão da Ucrânia como iminente, até mesmo quando os líderes ucranianos não o consideram? E desde quando a Ucrânia se tornou num farol da democracia?
É deveras curioso observar o que se está a revelar. Os EUA a atiçarem as chamas vigorosamente enquanto a Ucrânia pede para moderar a retórica. Apesar de haver muita agitação sobre porque é que o demónio Putin está a agir desta forma, as motivações dos EUA são raramente sujeitas a escrutínio. A razão é familiar: por definição, os motivos dos EUA são nobres, ainda que os esforços para implementá-los sejam também mal dirigidos.
Contudo, a questão pode merecer algum pensamento pelo menos pela parte dos “selvagens das alas” para pedir emprestada a frase do ex-conselheiro de Segurança Nacional McGeorge Bundy. que se referia às figuras incorrigíveis que se atreviam a aplicar a Washington os mesmos padrões que eram aplicados a outros.
Uma resposta possível é sugerida pelo famoso slogan acerca do propósito da Nato: manter a Rússia fora, manter a Alemanha em baixo e os EUA dentro. A Rússia está fora, muito fora. A Alemanha está em baixo. O que permanece é a questão de se os EUA se mantêm na Europa – mais precisamente se continuam a comandá-la. Nem todos aceitaram tranquilamente este princípio, entre eles: Charles de Gaulle que avançou com o seu conceito de Europa do Atlântico aos Urais; a Ostpolitik do ex-chanceler alemão Willy Brandt; e o atual presidente francês Emmanuel Macron que, com as suas iniciativas diplomáticas atuais, está a causar muito incómodo em Washington.
Se a crise da Ucrânia for resolvida pacificamente, será um assunto europeu, cortando com a conceção “atlantista” do pós-Segunda Guerra que deixa os EUA firmemente no lugar do condutor. Pode até ser um precedente para mais movimentações no sentido de uma independência europeia, talvez até no sentido da visão de Gorbachev. Com a iniciativa da Nova Rota da Seda a irromper a Oriente, questões muito mais amplas surgem na ordem global.
Como em quase todos os casos do passado no que diz respeito a política externa, assistimos ao frenesim dos dois partidos dos EUA sobre a Ucrânia. Contudo, enquanto que os Republicanos no Congresso instam Biden a adotar uma posição muito mais agressiva contra a Rússia, a base proto-fascista questiona a linha do partido. Porque é que acontece e o que esta divisão nos Republicanos sobre a Ucrânia nos diz acerca do que está a acontecer nesse partido?
Não se pode falar simplesmente do Partido Republicano atual como se fosse um partido político genuíno que participa numa democracia funcional. Uma descrição mais adaptada é a da organização como uma “insurgência radical (link is external) – ideologicamente extremista, desdenhosa dos factos de qualquer compromisso e que desconsidera a legitimidade de quem se lhe opõe”. Esta caracterização dos analistas políticos Thomas Mann e Norman Ornstein da American Enterprise data de há uma década, antes de Donald Trump. Mas agora até já está fora de prazo. Do acrónimo GOP [de Grand Old Party, Grande Partido Velho] o que continua é o “O”.
Não sei se a base popular que Trump transformou num culto de adoração está a questionar a postura agressiva dos líderes republicanos ou se se importa com isso. As provas são escassas. As principais figuras de direita intimamente associadas ao GOP estão a deslocar-se muito para a direita relativamente à opinião europeia e à postura daqueles que esperam manter alguma aparência de democracia nos EUA. Vão mesmo além de Trump no seu apoio entusiástico à “democracia iliberal” do Presidente húngaro Viktor Orbán, exaltando-a por salvar a civilização ocidental, nada menos que isso.
Este efusivo acolhimento do desmantelamento da democracia por Orbán pode trazer à lembrança os elogios ao líder fascista italiano Benito Mussolini por ter “salvo a civilização europeia [e assim sendo] o mérito que o Fascismo ganhou por isso viverá eternamente na história”; ideias do venerado fundador do movimento neoliberal que reinou nos últimos 40 anos, Ludwig von Mises, no seu clássico de 1927 “Liberalismo”.
Leia também:
1- Preisdente dos EUA diz que Putin já planejava ataque à Ucrânia “há tempos”
2- Final da Champions League não vai mais acontecer na Rússia
3- Bolsonaro discursa em SP e evita falar sobre invasão da Ucrânia pela Rússia
Siga lendo o texto “Chomsky: Abordagem dos EUA à Ucrânia e Rússia “deixou de ser racional”
Tucker Carlson, comentador da Fox News, tem sido o maior dos entusiastas. Muitos senadores republicanos ou alinham com ele ou alegam ignorância relativamente ao que Orbán está a fazer, uma notável confissão de iliteracia no auge do poder global. O muito reconhecido senador Charles Grassley indica que apenas conhece a Hungria das explicações de Carlson na televisão e que apoia o que ouve. Tais desempenhos dizem-nos muito sobre esta insurgência radical. Sobre a Ucrânia, dissidindo da liderança do GOP, Carlson pergunta: porque é que deveríamos tomar qualquer posição numa briga entre “países que em nada se interessam nos Estados Unidos”.
Seja qual for o nosso ponto de vista sobre política externa, fica claro que já abandonámos há muito o domínio do discurso racional e estamos a entrar num território que tem uma história pouco atraente, para colocar a questão de um modo brando.
Entrevista originalmente publicada no Truthout (link is external) a 4 de fevereiro de 2021. Traduzida por Carlos Carujo para o Esquerda.net.
Como termina o conflito
— DCM ONLINE (@DCM_online) February 24, 2022
Participe de nosso grupo no WhatsApp clicando neste link
Entre em nosso canal no Telegram, clique neste link
